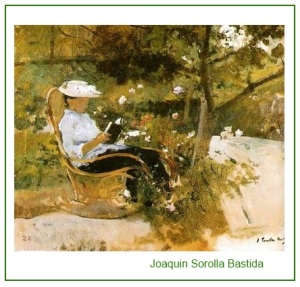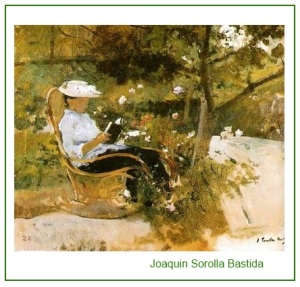
Somos, eu e minha mãe, duas seduzidas pela literatura, seja ela de qual tipo for – ainda que eu, pessoalmente, passe longe dos pretensos livros de autoajuda. Por razões óbvias, meu gosto literário foi se construindo gradativamente e lembro com muita saudade de livros como “O menino do dedo verde” (Murice Druon) e “Pollyanna” (menina ou moça, de Eleonor H. Porter), que fizeram parte de minha infância quase juventude.
Por conta desse amor em comum, rememorar tempos passados é trazer à tona um número sem fim de recordações com os livros. Tínhamos em nossa casa, num interior não muito distante de Salvador, um quarto com acesso logo na entrada repleto deles e de todos os tipos. A estante branca tomava toda a parede e o aroma que preenchia o cômodo era uma mistura de papel e tempo. Dessas recordações, lembro-me bem dos fins de semana, quando minha mãe nos arrastava à capital para andanças infindas em meio à Avenida 7. Tentem fazer isso entre os oito a doze anos de idade e perceberão que aquele amontoado de gente caminhando para lugares diversos, arrastando uns aos outros como se fossem boiada, não somente é assustador como impactante. Para mim valia à pena porque quase sempre, ou sempre para ser melhor fiel à minha memória, voltava com um exemplar novo, com cheiro doce que só os livros possuem.
A livraria era sempre a mesma. Sempre a mesma porque nessa época minha mãe estava às voltas com diferentes tipos literários de cunho religioso, enquanto lia avidamente e trocava figurinha com as amigas da igreja, especialmente minha tia. Não é de se estranhar que As Paulinas era ponto certo a ser cumprido naquelas visitas e, sabe-se lá o porquê, parecia haver um lançamento semanalmente. Enfim, enquanto minha mãe corria em busca de novidades eu me perdia na seção infanto-juvenil da loja. Devo dizer, a variedade era emocionante, não à toa quase sempre tinha que fazer a escolha entre três ou mais exemplares.
Voltando ao roteiro de uma história sem pé, lembro-me bem que após contato com os livros infantis mais caricatos e de extrema relevância, ressalvo, e depois de me mudar para Salvador, era uma pequena viciadinha, no auge dos meus 12 anos, na baixa literária dos romances de banca de revistas. Achava-me tão moça. Tão adulta. Julguem-me, mas, sim, li, talvez, toda coleção de Julia, Sabrina e companhia dos idos de 96 a 2000 com grande saciedade. E mais, consegui subverter a minha grande amiga, daquelas que enchem o peito de amor e orgulho, hoje Carolina Lima, a seguir a caminhada comigo.
Diferentemente da minha casa, seu pai, que gostava de livros com viés mais filosófico, não permitia a entrada de tal tipo de exemplar e, recordo-me bem, embaixo do colchão do quarto de Carol existia uma quantidade considerável de numerários. Trocávamos figurinhas e personagens, antes ou depois de brincarmos com suas Barbies, ou jogarmos balões de águas nos passantes, viajantes que perambulavam em frente à sua casa (especificamente para essa atividade tínhamos outras boas e fieis companhias).
Não sei lhes dizer quando deixei de lado esses romances semanais, mas em algum momento da minha vida eles se tornaram insuficientes. Talvez o culpado seja o próprio tio Schumam, pai de Carol, que me apresentou, ao tempo da ebulição hormonal literária, “O mundo de Sofia”, de Jostein Gaarden, e que me permitiu ver que aqueles tipos literários possuíam palavras fáceis demais. Ou, o pior, não me permitiam pensar.
Era uma jovenzinha indignada, necessitando experimentar outras possibilidades que ultrapassassem os muros escolares.
Ai surge outra lembrança brilhante de um Supermercado relativamente grande próximo ao local onde morava e que, juntamente com a editora L&PM, foi responsável por minha felicidade semanal. Isso por que, continuávamos a passear pelas Paulinas, mas ela já não me interessava tanto. Então prevaleciam as visitas semanais ao Supermercado, nas quais eu fazia questão de acompanhar a minha mãe, apenas para me deparar com aquele pequeno e circular mostrador de livros com um número reduzido de exemplares de bolso.
Eu pulava Agatha Christie (nunca fui do tipo fã de suspense), mas pegava qualquer coisa de Voltaire, Shakespeare, Sun Tzu, Camilo Castelo Branco, Sófocles, e, bem, os autores iam se multiplicando e quanto menos os conhecessem mais interessada ficava. Geralmente minha mãe limitava minhas aquisições, mas, às vezes, se eu mendigasse muito, ela me deixava levar até mesmo o terceiro. E antes que alguém levante qualquer dúvida em relação ao gosto literário da senhora minha mãe, saibam que cresci em volta à coleção de Jorge Amado e até mesmo, vejam só, Adam Smith e sua mão invisível que, de fato, só fui entender realmente anos depois quando já na faculdade. Acontece que ela tem uma predileção por romances mais doces, o que, de certo modo, também me agrada.
Aprendi com ela, ela aprendeu comigo e acho que ficamos bem assim.
Enfim, voltando à questão literária, depois de tio Schumman, foi Caio Vinicius, o grande Calainho, hoje mestre em literatura, que fez questão de me fazer entrar no mundo das palavras, literalmente, de cabeça. Foram tantas apresentações que, talvez, apenas talvez, não coubessem nesse texto porque, obviamente, alcançaria uma extensão indesejada.
Lembro, com saudade, do exemplar por ele impresso e encadernado de “Entrevista com vampiro” (Anne Rice) que me fez rever as escusas com os livros de suspense, mas que não teve o condão de me fazer gostar de Agatha Christie – e me perdoe aqueles que gostam.
Foi através dele que conheci Virginia Woolf. E minha trilogia de “As Brumas de Avalon” (Marion Zimmer Bradley) me foi presenteada por ele também, em um desses dias em que se comemora a idade. E teve Italo Calvino, especificamente com “O cavaleiro inexistente”, e o grupo de estudos no qual se produziam conversas e vinhos. Tantas memórias visuais, tantos roteiros.
Passado o tempo eu segui sozinha, porque a vida vai tomando seus rumos e a gente vai caminhando por diferentes direções, muitas vezes opostas. Eu optei pelo Direito, ele pela Pedagogia, mas ainda sobrava tempo prum café e uma rima. Depois nem isso.
Escrevo essa trajetória de leitora, especificamente nesse tempo e numa época em que voltei a conversar comigo mesma, entoando causos quaisquer, por que este foi um ano literário atípico. Consigo contar nos dedos os livros que degustei e, acreditem, nem no meu passado floreado por romances água com açúcar li tão pouco. Nem no período da OAB ou ao fim do curso. Nunca dantes no quartel de Abrantes.
Alguns anos atrás, uma dessas companhias que a vida leva e trás, nem um pouco amorosa, ressalvo, emprestou-me um livro chamado “O Físico” como exaltações inúmeras ao seu enredo. Talvez isso tenha sido há uns quatro anos, talvez menos, só sei que nunca, NUNCA antes, havia me deparado com Noah Gordon – e a primeira vez que o fiz foi diante daquilo que ele chamou de “a epopéia de um médico medieval”. Questionei-me se ele era Ulisses, mas essa pergunta nunca foi respondida. Perdoem-me os meus amigos médicos, mas entendo patavinas sobre medicina ainda que o bastante sobre automedicação e afins – e não joguem pedras, mais da metade da população também entende.
Enfim, tratando-se de um romance com cunho histórico me permiti experimentar a leitura e, caso tivesse verborizado contra, mais do que o fiz, morderia minha própria língua porque, convenhamos, o livro é maravilhoso.
E não é que passei até a nutrir certa simpatia com a medicina? Ela lá e eu cá, obviamente.
Trago esse assunto à baila porque no início desse ano minha mãe, minha confidente quando o assunto é leitura, apresentou-me a uma livraria até então desconhecida localizada no Shopping Itaigara, local que vou uma vez por ano, quiçá. Eu já estava em um momento capcioso da vida no qual algumas escolhas devem ser feitas e isso acabou atingindo alguns víeis – dentre eles o da leitura. Estava empolgada a começar a ler sobre religiões, sabe-se lá por que, e já tinha um livro sobre Budismo me esperando na cabeceira.
Bom, foi então que me deparei com Tariq Ali, meus caros. Tariq Ali e seu “quinteto islâmico”, que supriria naquele momento meus ânseios religiosos – ao menos no que se refere ao islamismo. Fui ao óbvio e optei por “Sombras da romanzeira” por ser o primeiro dos cinco. Só depois fui atrás de saber quem era esse tal de Tariq e me deparar com a revista Veja o chamando de terrorista (Reinaldo Azevedo comanda, uou!) só me empolgou ainda mais para lê-lo.
Mas ai, senhoras e senhores, surgiu “Xamã”. Para quem não sabe, Xamã é a sequência de O Físico, por assim dizer, e continua a saga da família Cole e o seu dom para a medicina. Garimpei na mesma livraria, ressalva-se. Mas o problema não para ai, porque se não bastasse Xamã existia “A Escolha de Dra. Cole” e, por favor, saber de antemão que um dos descendentes era do sexo feminino me fez entrar em quase colapso. De um modo ou de outro adquiri os três livros e os levei lindamente para casa.
E então veio o pacifico mundo de… NADA.
Por oito longos meses.
Foram oito meses lendo as maiores besteiras possíveis, mas nenhum livro digno.
Nenhum.
E a menina literária virou qualquer coisa. Nem Clarice seduzia. E olha que recebi bons exemplares nesse período. Nem Chico, que, convenhamos, é, pelo menos, musicalmente lindo. Absolutamente nada.
Passado o completo silêncio literário aqui estou eu após duas semanas inserida nos livros perdidos. Lá se foi o percurso de Xamã, lá se foi a tal da Dra. Cole e nesse exato instante dou adeus às romanzeiras e suas sombras, mas especificamente à Yasid, porque às vezes a gente tem dessas coisas de se apegar aos personagens.
E estou dando olá ao “O livro de Saladino”, para cumprir minha promessa de ler os cinco enquanto passeio por “A elegância do ouriço” (Muriel Barbery) que lamenta em minha cômoda há longos meses.
Juntar a fome com a vontade de comer.
E que tudo dê certo.
Oremos.